Quero meus ossos no cemitério
Por Francisco Frassales Cartaxo
Não estou pensando em morrer. Não penso nem quero. Muito menos desejo que chegue logo minha hora. Nas ruminações e difusas projeções não me aparece a morte. Melhor assim. De meus doze irmãos, seis estamos vivos. O mais novo nasceu frágil, mal teve tempo de ser batizado para não morrer pagão e, dessa maneira, ir viver no limbo, conforme a crença que dominava o ambiente de catolicismo onde me criei. Dos outros cinco irmãs e irmãos vivos, a maioria beira ou já dobrou os 90 anos. Como o décimo na lista dos doze, virei o caçula. Portanto, se a regra de longa vida perdurar na família, ainda tenho muito chão pela frente. Assim espero.
E o coração?
Órgão traiçoeiro, dizem, mas tem suportado os trancos existenciais. Por isso, leitora amiga, não perca seu tempo a procura de mistério escondido nestas palavras de sombrias aparências, escritas às vésperas do dia de finados. E mais, nada de demência senil, que essa desventura não me assalta. Longe de mim visões proféticas carregadas de assombrações. Mais uma vez recorro à herança genética, muito embora meu pai, Cristiano Cartaxo, tenha sofrido três infartos. Ora, ele só tomou ciência desse diagnóstico no terceiro baque… E assim mesmo graças ao médico campinense Bezerra de Carvalho.
Outra coisa. Não disponho de bens que mereçam testamento divulgável. Jamais me apeguei às coisas materiais, salvo as que proporcionam um certo conforto. Conforto decente que não vai além das aspirações da classe média. Nunca me beneficiei das situações de privilégios a que fui alçado pelas circunstâncias da vida profissional e política. Levarei para o túmulo a tranquilidade de jamais ter usado a máquina pública para me servir, ampliando, desonestamente, o patrimônio pessoal ou familiar. Faço questão de proclamar sem nenhuma bazófia esse legado, que deixo a meus quatro filhos e dois netos, por enquanto.
Lamento, porém, ainda não ter realizado o muito do tudo que ainda desejo, sobretudo, no plano intelectual. No mundo das letras, como se dizia antigamente. Mas mantenho acesa a esperança. Para isso me esforço no tempo que me resta de vida ativa. Além do livro acerca da diocese de Cajazeiras a sair brevemente – só falta receber o prefácio de um acadêmico de muitos títulos, – já tenho definido o roteiro da história política de Cajazeiras. Dois ou três volumes, cuja elaboração da primeira parte referente ao Império já comecei.
E as memórias?
Nem penso em escrevê-las. Talvez aflorem com outra roupagem narrativa, quem sabe, no disfarce de romance ou conto ou novela, para contentar os fantasmas que rondam minha cabeça, loucos para virarem personagens. Como disponho de poucos bens materiais a ofertar aos meus herdeiros, sequer me preocupa a feitura de testamento. Mesmo assim faço-lhes esta imposição: não quero que transformem meus ossos em cinza. Não, não quero. Nada contra quem segue e exalta esse meio de cuidar dos restos mortais dos entes queridos. Fique bem claro isso. Jogar cinzas no Açude Grande ou no chafurdado morro do Cristo Redentor cajazeirense é lindo, emocionante. Mas eu não quero. Anseio ter a certeza de que a matéria restante de minha velhice deve ser transportada até o Cemitério Velho. E depositada no túmulo onde estão meus ancestrais, parentes, irmãos e irmãs e primos. Quero virar pó ao lado de todos os que lá estiverem quando eu morrer.
Escrevo e assino. Se for preciso, peço a Dolores Lyra para reconhecer a firma.
Os textos dos colunistas e blogueiros não refletem, necessariamente, a opinião do Sistema Diário de Comunicação.
Leia mais notícias no www.diariodosertao.com.br/colunistas, siga nas redes sociais: Facebook, Twitter, Instagram e veja nossos vídeos no Play Diário. Envie informações à Redação pelo WhatsApp (83) 99157-2802.
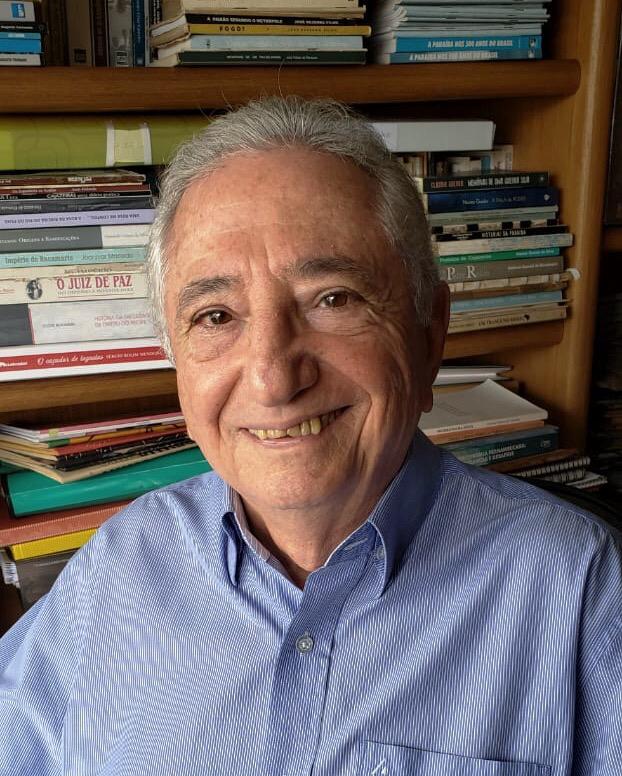













Deixe seu comentário